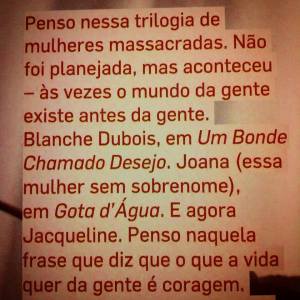Los traidores se passa em algum lugar da América do Sul, onde um tirano governa o país controlando, cooptando e manipulando o povo com mãos de ferro. Com tímidas tentativas de organização, “este povo espera por um milagre que resolva todos os seus problemas e deposita todas as suas esperanças num possível Justiceiro” que chega ao poder por acaso, sendo seduzido pela sua posição e abandonando aqueles que criam nele como seu representante inconteste.
O espetáculo dirigido e concebido por Cadu Witter se propõe a questionar a organização política com vigência mais ou menos similar nos países do Cone Sul através do consagrado gênero do teatro musical. Se de uns anos para cá os musicais têm cada vez mais ocupado os palcos do teatro brasileiro numa vertente derivada da Broadway, muitas vezes até com a montagem de espetáculos consagrados no circuito nova iorquino, Witter retoma uma tradição há algumas décadas perdida do gênero: o musical político.
Consagrado no Brasil da década de 1960, o espetáculo musical foi um dos principais meios de manifestação política de oposição ao regime militar (1964-1985), estando algumas peças do gênero no quadro dos principais espetáculos da dramaturgia nacional, como Show Opinião (Armando Costa, Paulo Pontes e Oduvaldo Vianna Filho – 1964), Arena conta Zumbi (Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri – 1965) e Gota d’água (Chico Buarque e Paulo Pontes – 1975).
Mas o diálogo com o teatro desse período não se dá somente em termos do gênero, mas também em termos de enredo e temática. Muitas foram as peças do chamado teatro engajado, cujo auge se deu entre finais dos anos 1950 e finais da década de 1970, que buscaram denunciar a tirania, a opressão e a repressão vigentes na América Latina, bem como os instrumentos de controle social, político e econômico do sistema capitalista e dos governos que o sustentam no continente. Entre elas, destaco Papa Highirte, de autoria de Oduvaldo Vianna Filho.
Escrita em 1968, mas encenada somente em 1979 por conta do veto recebido pela censura, a peça se passa num local fictício da América do Sul chamado Montalva, onde Highirte, ex-ditador de outra localidade fictícia do continente, Alhambra, está exilado após ser deposto por forças militares auxiliadas pelo capital internacional. As localidades fictícias, na verdade, servem para demarcar o continente sem definir um local específico, funcionando exatamente como a proposta de Los Traidores: “Em algum lugar perdido/Da América do Sul/Existe um povo oprimido/Esquecido, enganado…”
O papel de potências estrangeiras e do poder econômico na manutenção da subjugação do povo dos países do Cone Sul também é denunciado em ambas as peças, através de indivíduos que personificam toda a estrutura que se organiza em nome da desigualdade não só interna a cada uma dessas nações, mas também destas em relação às potências mundiais.
Além disso, tanto em uma peça como em outra, intenta-se mostrar que o problema dos sul-americanos não reside na existência de determinado líder ou tirano, mas sim na perpetuação de sistemas políticos cujas estruturas se baseiam no personalismo e na exclusão das classes populares das instâncias de fato decisórias. Ou seja, não se trata de uma questão pontual e/ou individual, se trata de um problema estrutural, cuja transformação ocorrerá somente através do engajamento e da organização popular.
Se em Papa Highirte Vianinha começava a aprofundar sua pesquisa estética através de incursões no teatro épico, em Los traidores Witter recorre a ela profundamente. Para além da presença de uma narradora que “conduz” a história e da clássica quebra da quarta parede (tem até “Eu nunca”, aquele jogo maneiro), as cenas têm caráter episódico constituindo, ao final, não um eixo dramático linear, mas sim, circular: após a morte do tirano sobe ao poder o justiceiro que, ao final, é substituído por um tirano, o que sugere a sucessão contínua dos eventos.
Ademais, o público é participante não só durante o desenrolar da peça, mas também no momento da compra do ingresso, quando os espectadores são convidados pelo próprio diretor a escrever num pequeno papel qual seria seu pedido para um governante que fosse atendê-lo. As pessoas são orientadas a depositar seu pedido em uma urna. Em dado momento do espetáculo, ela é trazida ao palco pela narradora que entregará aos personagens-povo os papeis para que possam fazer seus pedidos ao novo governante, o justiceiro. A “irmandade” entre os personagens e a plateia está sugerida e materializada quando os pedidos dos primeiros são os mesmos dos segundos.
Por fim, vale ressaltar o sagaz recurso metalinguístico materializado em uma das canções do espetáculo, não por acaso cantada ao início e ao final, em que os atores ironizam a passividade do público de teatro que senta, assiste, se distrai e vai embora. É essa também a crítica a uma população amuada, passiva e que não participa da vida política de seu país.

Foto: Catraca Livre